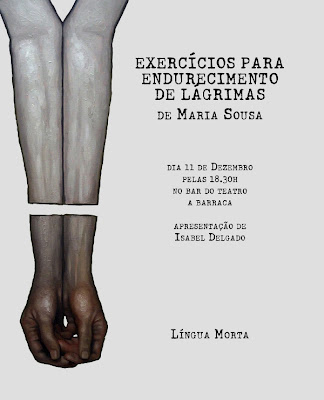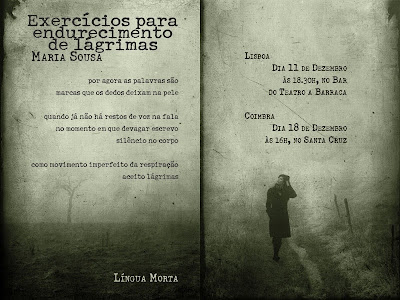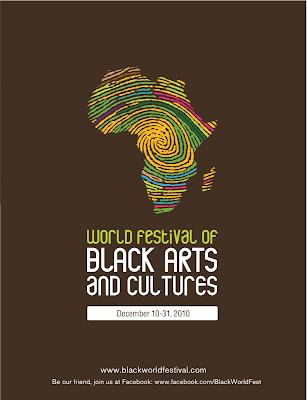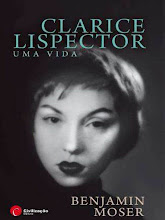sexta-feira, dezembro 24, 2010
feliz natal para todos que por cá ainda vão passando. obrigado
quarta-feira, dezembro 22, 2010
segunda-feira, dezembro 13, 2010
descobertas
o homem usava um desses olhares esguios, espécie de mirada tangencial que se direcciona mais para um tempo do que um lugar, e falou tão baixo que tive que diminuir o tom da minha respiração para poder ouvi-lo: “vai uma palavrinha?”
finalmente entendi, e busquei – com o olhar – as suas mãos calmas, julgando que nelas encontraria alguma explicação para aquela oferta, mas eram simplesmente as mãos nuas e limpas de um homem tranquilo, vestido de um modo obsoleto mas discreto, usando um fato completo de cor cinzenta que no brasil, como se sabe, atende pelo nome de “terno”.
“desculpe, não entendo”, balbuciei. o homem convidou-me a sentar num simpático banco de jardim, num dos lugares mais frescos do mundo, o chamado jardim botânico, na simpática (alguns dizem “maravilhosa”) cidade do rio de janeiro.
“pergunto se você está interessado em comprar uma palavra muito especial?”
e sim, eu começava a entender o episódio, não no sentido concreto que seguisse uma qualquer lógica das transacções comerciais como as conhecemos no mundo moderno, mas entrando já no campo das negociações metafísicas, género de trocas humanas que lidam com o inexplicável e em cujo âmbito a pessoa deve decidir se quer ou não entrar.
“de que palavra se trata?”, procurei saber. “há informações que só se conseguem mediante a troca de um certo valor”, o homem anunciou tranquila mas seriamente. “e de quanto estamos a falar?”, procurei a minha carteira com medo que ela já lá não estivesse. mas estava. não se tratava, de modo algum, de um burlador vulgar, ou de um esquema combinado em grupo ou com mais um compincha, para me sacarem a moeda “real”. era um esquema, sim, mas bem mais profundo. “quanto acha que vale uma palavra inventada e explicada por guimarães rosa?” – o homem viu que os meus olhos brilharam e a partir daí eu estava, por assim dizer, caçado.
desembolsei a quantia acordada, que não foi pouca, antes mesmo de saber que vocábulo era. o homem discursava lentamente. depois de ter guardado o dinheiro, fumava com estilo, mirava as árvores, contemplava os pássaros e, mesmo de olhos abertos, era nítido que viajava para uma memória comprida como um rio e sólida como uma ponte de madeira que formasse o cais para aonde me convidava a viajar também.
o mestre guimarães rosa ofereceu a palavra ao meu falecido pai, mas eu estava presente, e posso garantir-lhe que sou herdeiro único – tive que acreditar. o chá havia sido servido, guimarães rosa fumava, papai não gostava de fumar, mas na presença do mestre, permitia..., a sala era invadida por cheiros de chá, café, flores e o perfume do fim da tarde. as crianças, desde que silenciosas, eram autorizadas a permanecer durante os serões. e guimarães falou, explicou, deu acesso à criação. que era uma palavra que ainda não havia e fazia falta; que era palavra de retenção – mas redonda, que era assim um modo de dizer que fazia falta na nossa língua, dita portuguesa.
que palavra, afinal?” – quis saber, tentando entender se o preço se justificava. o homem, calmo, alisando com a mão a prata do seu lindo relógio de bolso, levantou-se, respirando fundo. “veja, as palavras não têm preço. custam o que queremos dar por elas...” levantei-me também: “ou custam o que decidimos que valem no momento de as vendermos... confesso que é a primeira vez que compro uma palavra.”
o olhar do homem alterou-se, tornou-se fresco. veio da viagem e regressou ao momento presente, menos intenso, porém ainda em suspensão. “privácia”, disse.
para atenuar o meu silêncio e encantamento, acrescentou: “guimarães rosa achava que essa palavra nos estava em falta. não é privacidade; é privácia. vem do inglês. como em privacy. e foi assim...”
voltei a sentar-me, vendo-o partir, contando o dinheiro e guardando-o novamente no bolso. de trás, confesso, não parecia o mesmo homem. talvez mais alto, talvez mais denso. pareceu-me ouvir a promessa de que nos voltaríamos a ver. no ar, deixava um conselho: “a mesma palavra não pode ser vendida duas vezes.” nem outra coisa me tinha ocorrido. guardaria a palavra na minha colecção privada de objectos internos.
tive apenas o leve presságio que talvez guimarães rosa ficasse magoado com o episódio. “ou talvez não.”
Ondjaki . Angola . Vai uma palavrinha...?