No quarto, com tempo para pensar, parecia-me às vezes que também eu estava assim, fechado duas vezes. Fechado naquele país que não me deixava ter telemóvel, que não me deixava receber emails e fechado no meu segredo.
Havia aquelas pessoas à minha volta, que me olhavam de lado quando tirava notas nos meus blocos, que me perguntavam porque tirava notas, que me perguntavam repetidamente, como se estivessem sempre a confirmar: sabe que não pode escrever sobre esta viagem.
E havia as outras pessoas, lá longe, a milhares de quilómetros, a passearam de carro nas estradas onde eu costumava a passear também, a terem o número do meu telemóvel na sua lista, a terem o meu endereço email e, talvez, a lembrarem-se de mim às vezes. Alguns a ligarem-me e a encontrarem sempre o telemóvel desligado, a escreverem-me emails e a minha resposta a não chegar.
No passado, porque tinha sido preciso escrever romances ou vivê-los, já tinha desligado o telemóvel por períodos mais ou menos longos. Ainda assim, nessas alturas, eu sabia em que gaveta ele estava e, a meio da noite, quando me apetecia, podia ligá-lo e ouvir as mensagens desesperadas de vozes a viverem o pequeno drama dos prazos e dos pedidos múltiplos que tinham para me fazer. No email, era exactamente a mesma coisa. Pedidos, pedidos, a maioria dos quais acrescidos de chantagem emocional mais ou menos velada.
Com essa experiência, tive um pouco a ideia do que é morrer.
Na primeira semana, está toda gente em pânico. Há os textos que têm de ser entregues, os convites que precisam de uma resposta urgente. Urgente, urgente. Na primeira semana, é tudo urgente. A ansiedade sufoca até as palavras escritas por email, sente-se.
Na segunda semana, sem resposta, sem sinal de vida, uma parte grande dessas pessoas deixa de ligar ou escrever. Aqueles que ainda insistem, deixam mensagens no telemóvel sem terem a certeza de que vão ser ouvidas. Então, têm a consciência de que podem estar a falar sozinhos. Falam muito mais pausadamente do que antes, desanimados, fazem pausas, como se tentassem ouvir o próprio eco.
Na terceira semana, quase ninguém tenta ligar. Passam-se dias sem uma única mensagem. Ao abrir o email, só publicidade. A urgência acabou, começa apenas a passar o tempo.
Na Coreia do Norte, experimentava outro tipo de morte.
Ali, era eu que estava desligado e guardado numa gaveta. Aquela era uma morte sem notícias do que deixava para trás.
Não sabia quem me tentava ligar, nem que mensagens me deixava.
Não sabia que emails havia para responder. Ali, era apenas o corte, apenas a escuridão.
Os telefonemas que fazia aos meus filhos eram demasiado rápidos. A voz deles era demasiado distante e coberta por ruído estático. O momento em que estávamos a falar passava tão depressa que, depois, quase parecia não ter acontecido. Momento fugaz, memória vaga.
Os telefonemas que fiz à minha irmã e à minha mãe não contrariavam este sentimento.
Está tudo bem por aí?
Esta pergunta era demasiado complexa para responder nos minutos contados de um telefonema.
Eu, em Pyongyang , na Coreia do Norte, e a minha a mãe a perguntar:
Está tudo bem por aí?
Considero-me prático e funcional. Respondi sempre pelo lado do senso comum. Dizer que estava tudo bem era a minha maneira de dizer que não estava doente, que não tinha sido preso e que contava regressar a casa como combinado. Mas, claro, essa não era a resposta completa a uma pergunta tão vasta.
Além disso, as respostas que elas me davam também não eram satisfatórias. Não apenas pelo desencontro das palavras, não apenas por ser muito difícil darem-me com duas ou três frases as imagens que me falavam, mas por uma razão muito mais directa: eu sabia que, se tivesse acontecido alguma coisa má, alguma coisa mesmo má, daquelas que não têm apelo, tanto a minha mãe como a minha irmã não me iriam dizer. Estando eu na Coreia do Norte, sem possibilidade de fazer nada, não me iriam causar sofrimento desnecessário.
Sabendo isto, ao falar com elas, eu tentava avaliar-lhes o tom de voz, o ânimo. Essa interpretação era bastante subjectiva e nem sempre me descansava. Até porque, como eu, também elas guardavam segredo.
Quando a minha irmã estava no corredor, a falar comigo ao telefone, as filhas passavam por ela e não podia dar a entender a preocupação que sentia. O mesmo acontecia com a minha mãe, que ia ao supermercado, ao correio, que cumprimentava as pessoas na rua da nossa terra, sabendo que eu estava na Coreia do Norte.
Eu estava no desconhecido.
Guardamos os segredos ao lado de tudo o que não dizemos. Nesse grande sótão escuro há de tudo, há aquilo que não dizemos porque temos medo, porque temos vergonha, porque não somos capazes; há aquilo que não dizemos porque desconhecemos, ignoramos mesmo, apesar de estar lá, em nós. Os segredos não são assim. Eles estão lá, podemos visitá-los, assistir a eles, sabemos as palavras exactas para dizê-los e, muitas vezes, temos tanta vontade de contá-los. Mas escolhemos não o fazer.
Os segredos estão dentro de nós. como tudo o que sabemos, também os segredos nos constituem. Também os segredos são aquilo que somos. Quando os seguramos, quando somos mais fortes e os contemos, alastram-se em nós. Desde dentro, chegam à nossa pele. Depois, avançam até sermos capazes de os distinguir à nossa volta. E, no silêncio, somos capazes de os reconhecer. Então, nesse momento, já não são apenas os segredos que estão dentro de nós, somos também nós que estamos dentro dos segredos.
José Luís Peixoto

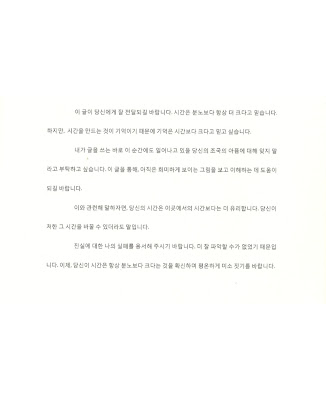








1 comentário:
Aiiii..kamarada!
Nao publica so o fim do livro, ya;)
Ainda nao cheguei nem a metade...
Estou adorar!!! :)
Naicoco
Enviar um comentário